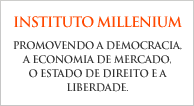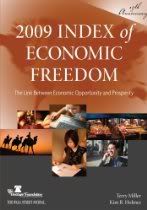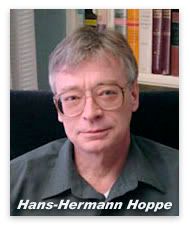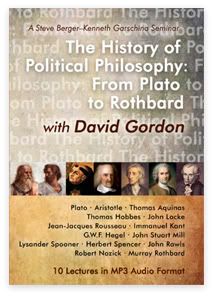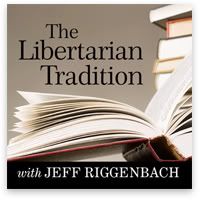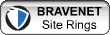Como debelar a atual crise mundial e evitar que novas aconteçam
1. Introdução
A atual crise financeira mundial que rapidamente excursiona para o lado real da economia tem suas causas na precedente política monetária expansionista levada a cabo pelo Banco Central americano (FED), pelo menos desde meados da década de 1990[1]. Em outros lugares[2] já explicamos como isto acontece e por ora apenas lembramos que a política artificial de expansão do crédito tem o poder de gerar um crescimento da economia. Todavia, como vimos, a expansão artificial logo exige correções e ajustes. Os juros sobem para patamares condizentes com a disponibilidade real de poupança, o crédito se arrefece, pessoas e instituições vão à falência pelo alto endividamento. Aí se revela a insustentabilidade dos negócios feitos anteriormente. Vem a crise e a quebradeira.
No atual contexto, a crise imobiliária americana tem cobrado um preço elevado. Parece que as atuais medidas tomadas pelo governo americano de, num primeiro momento, disponibilizar um crédito na ordem de 700 bilhões de dólares vem gerando pouco efeito. Em que pese haver certa unanimidade de que para debelar a crise são necessárias mais intervenções estatais tanto através de mais regulações quanto de mais crédito, esta saída é o pior caminho a ser tomado, pois significará mais endividamento estatal o que exigirá que a sociedade pague a conta num futuro próximo; sem falar que estas medidas apenas intensificarão o atual ciclo econômico, gerando uma depressão de maiores proporções logo adiante. Se o artificialismo monetário fosse solução para crise, a economia seria um processo de expansão e enriquecimento perpétuo. Há muito tempo a pobreza já estaria extinta. Mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam.
Diante desse quadro, aumentar ainda mais os encaixes financeiros da economia via expansão do crédito está longe de ser a melhor solução. Reconhecemos, porém, que tal medida dará novo fôlego para os beneficiários no curto prazo, mas ela tornará as coisas ainda piores em pouco tempo. Seria uma falsa solução.
Julgo que a atual crise exige repostas para duas importantes questões: a primeira consiste em saber qual a melhor medida para debelar a atual crise. A segunda, diz respeito de qual seria o melhor modelo para evitar que a economia sofra crises semelhantes ou piores no futuro. Ou em outras palavras, precisamos saber se é possível cortar o mal pela raiz.
O que passo a considerar a seguir diz respeito aos Estados Unidos. Mas estas medidas têm caráter universal e deveriam ser adotadas por todos os países indistintamente.
2. Como solucionar a atual crise financeira sem tornar as coisas piores?
Para responder a primeira questão, convém que os Estados Unidos reduzam drasticamente os gastos públicos. Isto significa, na prática, a imediata abolição de centenas (ou milhares) de repartições públicas (a tal burocracia) que, longe de terem alguma função social, apenas servem para atender os interesses dos grupos que estão no poder. Assim, o nível dos impostos pode ser reduzido. É imprescindível que esta medida tenha um caráter permanente. Dessa forma, em que pese a elevação dos juros que aconteceria neste momento para reordenar o mercado de crédito, ela por si só jogaria um revigoramento no sistema econômico. Mais recursos estaria nas mãos dos agentes econômicos que direcionariam para atender as demandas mais urgentes dos consumidores. Note-se que esta ação seria análoga àquela proposta pelas autoridades e economistas mundo a fora que insistem em sugerir pela maior expansão do crédito para solucionar um problema causado justamente pelo excesso de crédito. Porém, tal medida, conforme propomos, não teria o artificialismo, pois o corte dos gastos estatais permitiria a redução dos impostos. Assim, os agentes teriam recursos disponíveis pelo ato saudável do governo cortar gastos e impostos, e não em inflacionar ainda mais o sistema pela expansão creditícia.
Com menos recursos em posse do governo acabaria a gigantesca burocracia estatal, que estaria obrigada a aplicar com mais eficiência os recursos obtidos com os impostos. Além disso, acrescenta-se que o emprego dos recursos públicos deve atender a uma gestão eficaz voltada para resultados quantificáveis. Um sistema de incentivo e punição para quem atinge as metas, como adotado no setor privado, serviria como estímulo para a eficiência das atividades públicas restantes.
Não creio e nem quero argumentar neste momento, que a redução indistinta das atividades estatais seja saudável em si. Estou de acordo com Dworkin[3] quando alerta que seria justo que determinados setores de assistência social deveriam ser mantidos à medida que eles efetivamente previnam e evitam que os mais pobres sofram ainda mais com a crise. Esta consideração é de caráter moral, pois ela não acha justo que os mais pobres devam se sacrificar em nome do maior bem-estar ou da prosperidade que virá num futuro como conseqüência da atual reestruturação econômica. Até porque não se sabe ao certo o tempo que levará para que a economia retome a sua pujança. E pedir o sacrifício de alguns em nome do beneficio da maioria, seria não tomar em igual consideração todos os indivíduos. Sacrificar alguns em nome de outros é um traço da ética utilitarista que não condiz com a exigência liberal da igual consideração pessoal. Talvez, até que a economia retome o seu fôlego, os menos favorecidos poderão ficar numa situação ainda pior caso não tiverem uma assistência, sobretudo, no âmbito da educação e da qualificação profissional. Caso contrário, quando a pujança vier, poderão não usufruir dos benefícios, pois suas habilidades – sem falar nas suas condições psicológicas - não darão conta das exigências do novo mercado de trabalho. No fim das contas, estas pessoas poderão ficar numa situação ainda pior do que antes, em que pese o florescimento da economia.
Neste sentido, o corte nos gastos públicos, ressaltamos, deve ser feito em todas as instâncias supérfluas que, em última análise, apenas tem o propósito de servir à própria estrutura burocrática estatal ou, melhor dizendo, só servem ao rei e a seus amigos. Tal reestruturação estatal imprimiria um novo fôlego na economia, pois com a maior disposição de recursos nas mãos de quem os gerou muitos investimentos não iriam a bancarrota e outros tantos seriam redirecionados para as atividades mais urgentemente demandada pelos consumidores. Assim, a crise seria rapidamente debelada em favor da retomada do crescimento econômico.
Ressalta-se que no século XX o poder do Estado se expandiu de forma inédita. Começando pelo poder de emitir moeda até o controle do sistema de previdência social passaram de modo geral a ser monopólio do Estado. Estes e tantos outros serviços são setores que não devem estar a cargo do estado. A iniciativa privada pode dar conta com muito mais eficiência e eficácia do que o realizado pelo setor público. É nestes e outros tantos setores que propomos a transferência de responsabilidade do setor público para o setor privado em regime de livre concorrência.
3. É possível evitar que tais crises sigam acontecendo?
Para responder a segunda questão, isto é, qual medida tomar a fim de que graves distúrbios financeiros como o atual não mais aconteça, cremos que a solução da crise passa, em primeiro lugar, pela abolição da política expansionista, mas não apenas no aumento dos juros da economia. De um ponto de vista abrangente, nossa sugestão indica que é urgente haver uma reestruturação do próprio sistema monetário internacional. Isto pode parecer difícil e até impossível em vista das profundas circunstâncias em que o poder está constituído, mas convém lembrar que quando se está afundado no pântano não se sai dele com apenas um passo. Temos convicção que a solução para se evitar outras crises desta ou maior proporção no futuro passa, necessariamente, pela reforma na atual estrutura financeira global.
A idéia principal é que a moeda deve deixar de ser fornecida pelo monopólio estatal e passasse a vigorar o padrão-ouro. Faremos uma rápida abordagem do conceito de dinheiro e sua emergência na sociedade para entendermos em que consiste e como funciona a proposta do padrão-ouro.
Conforme nota Alceu Garcia[4], “o dinheiro é uma mercadoria sui generis, pois não é bem de consumo nem bem de capital. Demanda-se moeda para trocá-la por bens de consumo ou pelos serviços dos fatores de produção”. Disso decorre que diferente de outras mercadorias que quanto maior for a sua oferta menor são seus preços; no caso da moeda, quanto maior for a sua oferta, menor será o seu poder de compra. Se houver um aumento na disposição de moeda, mais unidades monetárias serão necessárias para comprar a mesma quantidade de mercadoria. Temos aí a verdadeira inflação que consiste na corrosão do poder de compra da moeda e não na falsa noção de “aumento generalizado e persistente nos preços” que se trata do seu efeito.
O fenômeno da moeda como mercadoria emergiu espontaneamente na antiguidade e de certa forma perdurou até o início do século XX. Vários produtos exerceram a função de meio de troca, como o sal (daí salário), o tabaco etc. Posteriormente metais preciosos passaram a ser usados como moeda sendo o ouro e a prata as principais moedas. Este foi um processo natural de mercado, não houve uma imposição governamental exigindo ou facultando que o ouro e a prata fossem adotados como moeda. As pessoas voluntariamente atribuíam aos metais preciosos a conotação de moeda pelas vantagens oferecidas por esta mercadoria. A sua divisibilidade, durabilidade, facilidade de transportar e a valoração intrínseca atribuída pelas pessoas (aceitação geral) conferiam ao ouro e a prata o estatuto de moeda em suas relações econômicas.
Com o advento da atividade bancária, os bancos recebiam o ouro dos agentes proprietários e o gerente do banco dava em troca um recibo de depósito que podia ser trocado no mercado por qualquer bem. O possuidor do recibo de depósito de ouro podia a qualquer momento retirar o seu ouro no tal banco. Neste caso, os bancos guardavam o ouro mediante a cobrança de uma taxa ao proprietário e emitiam recibos de depósito de ouro. Se, por exemplo, alguém depositasse 100 gramas de ouro num banco, o gerente se sentia livre para emprestar o equivalente, pois no caso de saque do recibo, o banco teria o ouro para devolver ao credor. Era o sistema monetário lastreado 100% no ouro. Emitia-se recibo somente na quantidade que o banco possuía em seus estoques.
Alguns bancos, porém, notaram que nem todos os credores vinham ao mesmo tempo sacar o seu ouro, razão pela qual o banco sempre tinha uma folga de estoque. Então, passaram a emitir recibos numa quantia um pouco superior a quantidade de ouro que realmente possuíam. Tal postura passou a predominar e o poder de compra do ouro começou a cair devido a grande quantidade de recibos que estava em circulação. Houve uma corrida aos bancos para sacar o ouro e os bancos não tinham o ouro suficiente para cobrir a quantidade de recibos emitidos e agora simultaneamente demandados pelos credores.
Esta postura irresponsável, no entanto, passou a predominar quando os governos perceberam que podiam se beneficiar no poder de emissão de moeda para financiar os seus gastos, sobretudo suas investidas bélicas. Foi então que o Estado passou a monopolizar a emissão de moeda e os detentores de ouro-moeda passaram a ter que cunhar em suas moedas-ouro o distintivo do rei (senhoriagem). Os governos espertalhões também passaram a misturar outros metais na fundição do ouro a fim de arcar com suas despesas bélicas. O processo inflacionário gerado pelo governo punia toda a sociedade, especialmente os pobres que são os últimos a receber a moeda inflacionada (falsificada), mas beneficiava o próprio governo, que utilizava a moeda antes dos preços subirem. Tal prática foi muito comum como, por exemplo, na época da queda do império romano. Uma das causas da queda do império foi o colapso monetário que causou uma desestruturação sistêmica e arruinou a economia.
A vantagem, porém, da moeda ser emitida por agentes privados, na ausência de qualquer determinação estatal, é que quando um banco falsificar moeda emitindo mais recibos de depósito do que o equivalente em ouro em seus estoques, rapidamente se revelará a fraude e os agentes econômicos não confiarão mais na instituição fraudadora. Note-se, além disso, que um banco que venha a emitir mais recibos do que a proporção de ouro que tem em seus cofres estará violando o direito de propriedade dos credores.
O sistema de padrão-ouro necessita estar desconectado de qualquer arbitragem política. E a emissão de recibos de crédito em ouro deve ser estritamente lastreada em ouro existente nos estoque do banco emissor. O livre mercado, isto é, a possibilidade dos agentes econômicos mudarem de instituição assim que desconfiarem que a sua esteja fraudando moeda, passa a ser o grande incentivo para que as instituições financeiras não cometam aventuras irresponsáveis. Porém, ainda assim, tal sistema tem seus defeitos, ainda que não superiores ao estatal.
Mesmo no sistema de padrão-ouro pode haver uma corrosão no poder de compra da moeda quando, por exemplo, os mineradores encontrarem mais ouro para monetização, elevando assim a sua oferta. Tal fenômeno beneficiaria primeiramente os mineradores e seria atingido por meio do avanço nas técnicas de extração no metal, mas desde que tais avanços superassem os custos de extração de ouro. Ou seja, a expansão monetária ocorreria somente com o aumento da produtividade no setor de mineração. Não haveria mais motivações políticas para inflacionar, ainda mais sem custo algum como é o caso do sistema de moeda fiduciária contemporâneo que basta imprimir papel para o governo se beneficiar.
No padrão-ouro a inflação artificial gerada pelos bancos seria fortemente desestimulada pela própria exigência dos credores preferirem confiar seu ouro às instituições íntegras e confiáveis. E, no livre mercado, as instituições teriam incentivos para permanecerem honestas sob a pena de terem de abandonar o mercado pela falta de clientes.
Este sistema é seguramente superior ao estatal que faz a moeda-papel possuir curso forçado na economia e, portanto, modela um sistema onde o próprio Estado possui fortes incentivos para inflacionar o dinheiro, seja através da expansão artificial do crédito ou mesmo pela impressão de moeda-papel, porque o próprio estado acaba sendo beneficiário desta fraude. Tal expediente tem sido sistematicamente usado desde o surgimento dos bancos centrais e de seu monopólio da impressão de dinheiro e de controle da economia monetária. A expansão monetária artificial para atender interesses políticos se torna ainda mais tentadora no contexto das democracias, onde a alteridade de mandatos presidenciais estimula ações voltadas para o curto prazo, em vista que o horizonte administrativo do partido governante geralmente não ultrapassa os limites das próximas eleições.
4. Considerações Finais
Para finalizar, lembramos que enquanto o governo estiver como timoneiro do importante mercado monetário, as crises serão uma constante também nos tempos vindouros. Portanto, nossa sugestão passa inicialmente pela reestruturação geral das funções do Estado, no sentido de abolir diversas autarquias, ministérios, secretarias, subsecretarias etc. a fim de permitir uma melhor e mais eficiente alocação dos recursos em sociedade. Como segunda medida, consideramos especificamente que é indispensável rever o sistema monetário. Para tanto, somos favoráveis à implementação de um sistema 100% lastreado em ouro, pois este se apresenta como uma alternativa superior ao sistema estatal de moeda de curso forçado que fica totalmente vulnerável aos apetites políticos do governante do dia. Reconhecemos ambas as medidas como profundas, provavelmente até de difícil aceitação no curto prazo, mas estamos convictos que elas estão num patamar adequado para dar uma resposta à precária, frágil e fraudulenta estrutura do sistema monetário internacional. O atual modelo de regulação e controle estatal é um fracasso e não serve para os propósitos de uma economia estável e saudável. O padrão-ouro concomitante ao fim do monopólio estatal na emissão de moeda é a solução que o mundo precisa para não mais reviver as persistentes crises geradas pela ingerência governamental.
[1] Veja-se especialmente o artigo de Antony Mueller O que está por trás da crise do mercado financeiro?. Sobre a bolha imobiliária ver o esclarecedor esquema de Mark Thornton A Bolha Imobiliária em 4 Etapas.
[2] Esta crise é mais um colapso gerado pelo capitalismo?
[3] Uma Questão de Princípio. Cap. 9 - Por que os liberais devem prezar a igualdade. Martins Fontes. 2005, p. 312-13.
[4] A Função Social do Dinheiro.